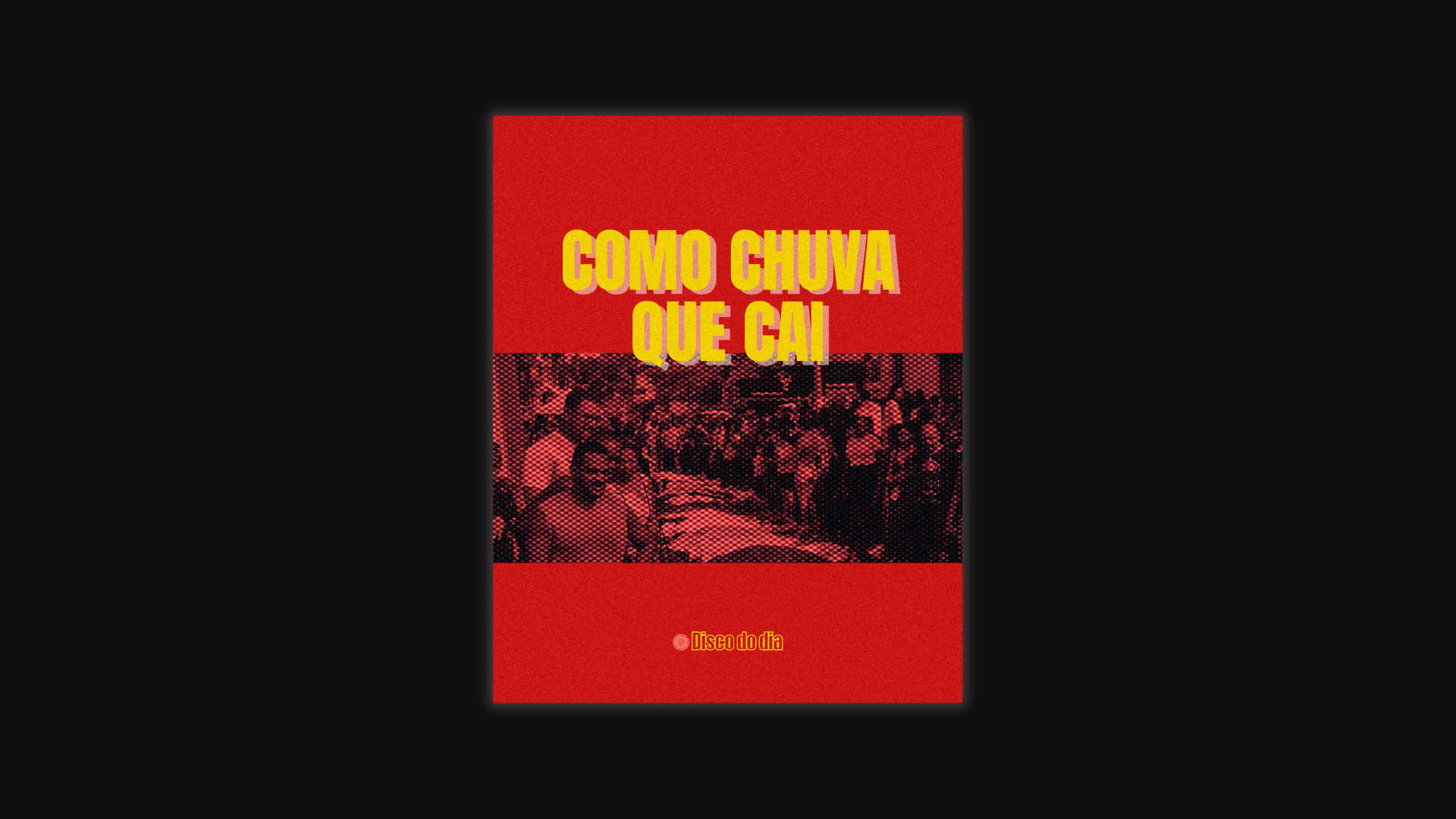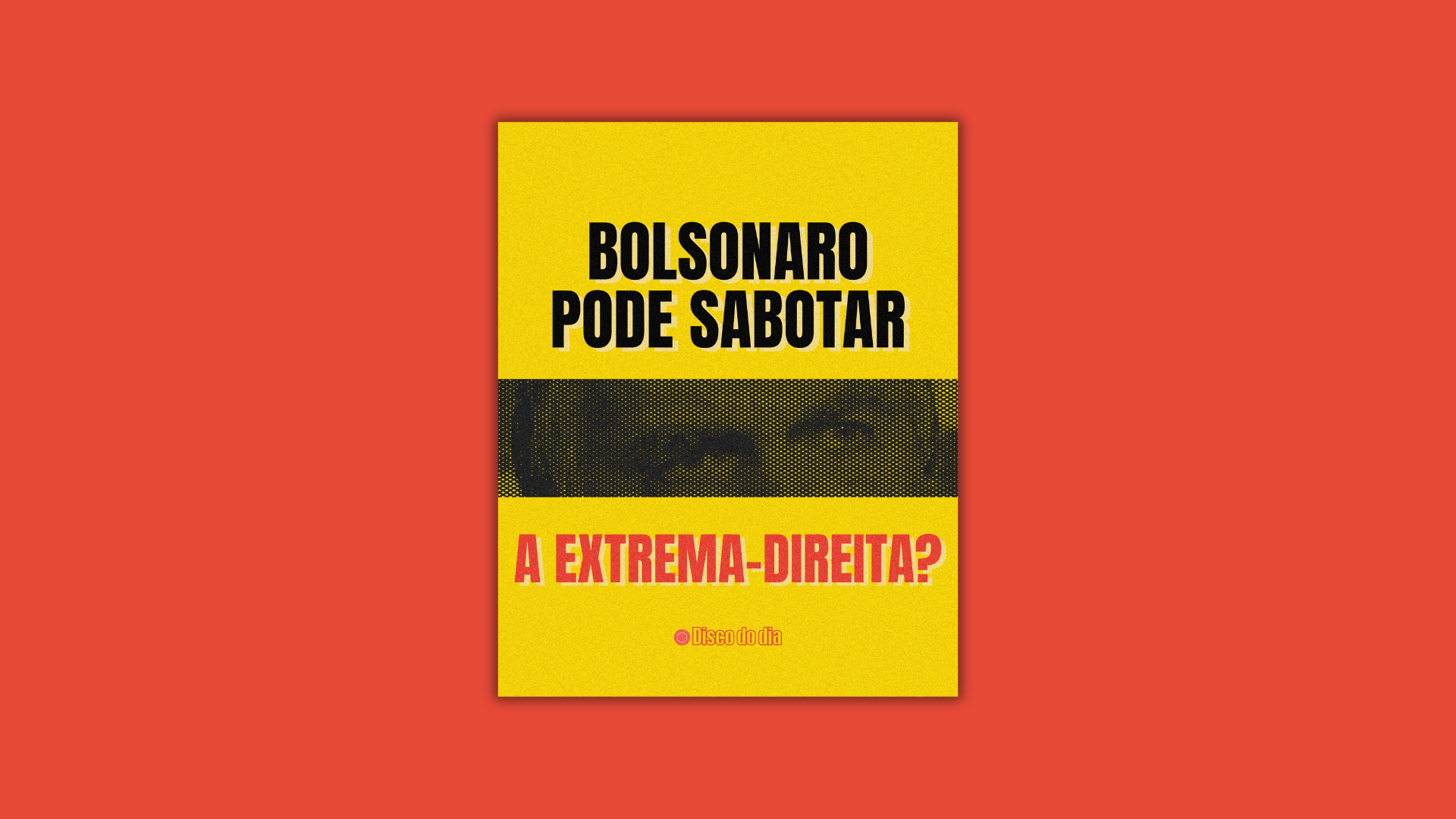O primeiro longa-metragem de Planeta dos Macacos chegou aos cinemas no início de 1968 nos EUA. Na verdade, naquele momento, a história não tinha pretensões de se tornar uma franquia de cinema. Era uma adaptação de um romance francês homônimo, de 1963. Veio no bojo das histórias de distopia e ficção científica que ganharam a literatura popular do pós-guerra e, posteriormente, a sétima arte.
Conhecemos a história de três oficiais do exército norte-americano embarcados numa missão de exploração espacial. Acordam de uma espécie de sono induzido após sua nave se acidentar num planeta, até então, desconhecido. Acreditam estar em algum lugar inabitado sem vida. Os acontecimentos vão provando o contrário: o lugar não só tinha vida animal como era cheio de primatas, assim como na Terra.
A grande surpresa, no entanto, é uma inversão chocante de posições. Os seres humanos parecem ser irracionais, animalescos, sem capacidade de comunicação oral. Por outro lado, outras espécies de primatas são dotados de racionalidade, fala e pensamento lógico. Estes, portanto, se desenvolveram e criaram sua sociedade iluminista, guiada por um discurso de razão e progresso da ciência.
A consequência deste cenário, naturalmente, foram os humanos serem colocados na posição de bestas feras. São capturados, açoitados e mantidos presos pelos primatas racionais. Vistos como bichos, de fato. Um estranhamento que captura a atenção do espectador e o conecta com a trama.
Cabe aqui uma análise contextual da agitação política naquele fim dos anos 1960. Os movimentos anticoloniais cresciam em colônias das potências ocidentais na Ásia e em África. As duas décadas recém-completadas do fim da segunda guerra e do estabelecimento da guerra-fria estabeleceram novos horizontes políticos; sobretudo àqueles que somente na Declaração dos Direitos Humanos de 1948 começaram a ter, de fato, direitos reconhecidos.
Este cenário influenciou correntes filosóficas, partidos políticos, e sobretudo a arte. Planeta dos Macacos é uma das obras carregadas deste caldo cultural, que reflete sobre a história do racismo e supremacismo europeu na modernidade. Ela tenta mostrar como uma sociedade que presume ter o monopólio da razão científica e das bençãos metafísicas pode ser cruel e violenta ao agir com o outro, principalmente quando acredita ser superior a este.
É um afeto que se apresenta de diversas maneiras: desde a rudeza dos guardas com os cativos, até na postura curiosa e condescendente dos cientistas, Dra. Zira e Dr. Cornelius, que tentam provar suas teses antropológicas sobre a história evolutiva humana, tendo o protagonista George Taylor como uma espécie de cobaia política.
Mesmo que em espectros diferentes de pensamento e ações políticas, ambos agem com os humanos de um ponto de vista socialmente superior. Tratam-nos como objeto. E mesmo quando levam seu ponto às últimas consequências, desafiando o entendimento daquele Estado sobre os humanos, o fazem tendo Taylor como um mero objeto político, que serve a seus interesses por acaso, e não por se considerarem de fato iguais.
O arco da história atinge seu clímax quando se desvenda que, na realidade, aquela era a mesma Terra que Taylor havia deixado, milhares de anos antes. Ele convivia ali com um futuro longínquo, em que os humanos regrediram a um desenvolvimento pré-histórico, após o que parece ter sido uma hecatombe nuclear entre as potências modernas. A sociedade dos primatas sabia da história, mas escondia a realidade de seu povo, numa tentativa de esquecer e afastar os perigos que aquela criatura, agora bestializada, tinha potencial de realizar quando dotada de razão e tecnologia.
No entanto, aquele estado parecia também ter se formado em cima de vícios, preconceitos e ideologias impostas de cima para baixo pelo governo. Escondiam informações do público, perseguiam judicialmente os críticos e abafavam provas que os desagradavam. Como poderiam eles julgar as ações históricas humanas, agindo desta maneira? É este o debate final da história, que também está na lógica de discussões sobre os regimes autoritários do século XX.
Planeta dos Macacos, por fim, registra uma visão política de um momento com poucas utopias. A primavera de Praga seria brutalmente contida pelo governo soviético, assim como as jornadas de maio de 1968 em Paris não levariam a França a um novo estado de relações sociais. Na década seguinte, a crise do petróleo agravaria disputas internacionais, derretendo a época de ouro das grandes economias ocidentais e colocando a política global sob o domínio do neoliberalismo nas décadas seguintes.
Talvez por isso, cada vez mais, a cena final do filme nos seja cara. Vagamos em busca de um norte, e deparamos com fantasmas do passado: do que fomos e do que fizeram conosco. Nos cabe recomeçar constantemente.